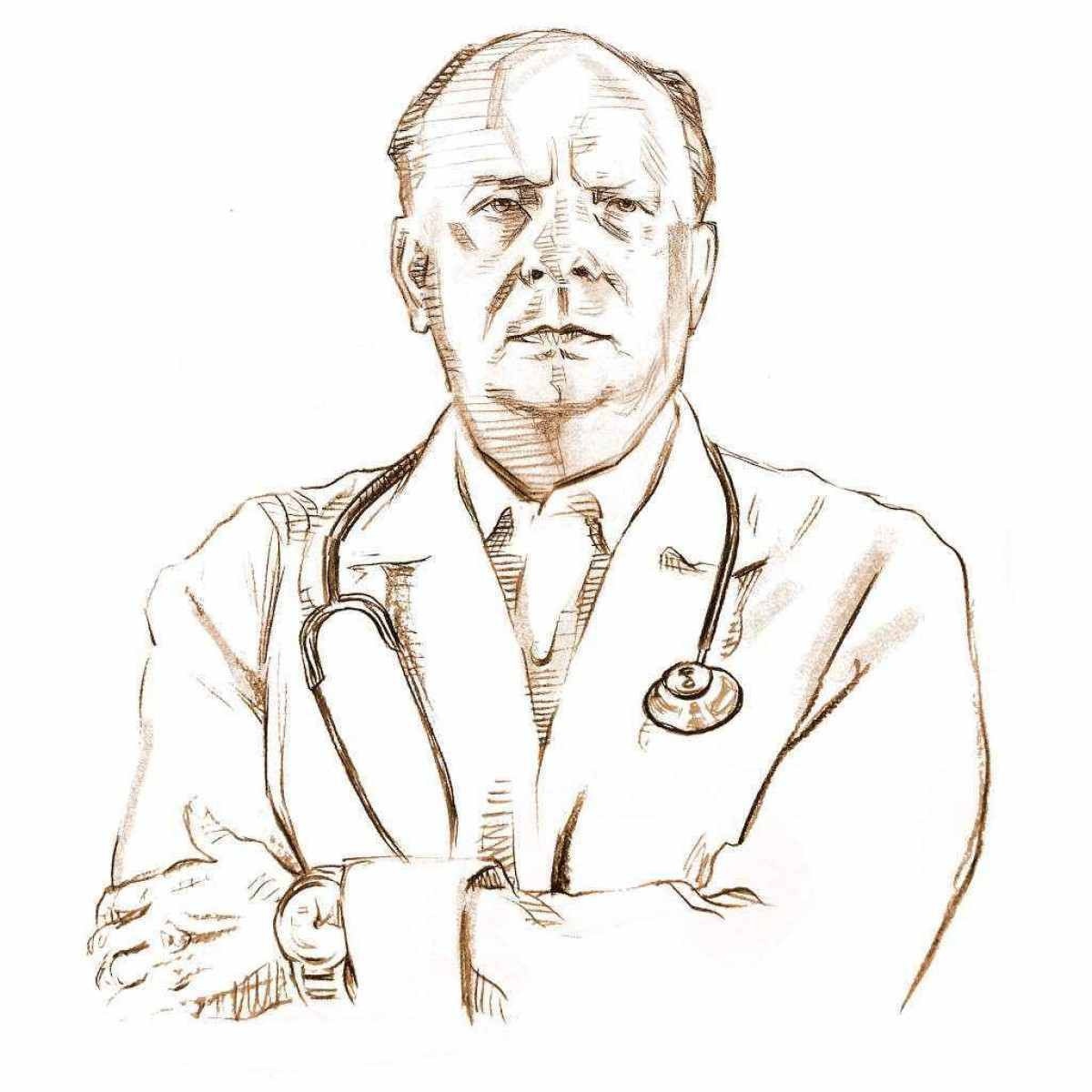
Os olhos de Sophia
O paradoxo do médico-pai é cruel. Conhecemos demais para ignorar e pouco demais paratercerteza
Mais lidas
compartilhe
SIGA NO
Essa semana “vi a minha avó pela greta”. Expressão que denuncia a nossa idade. Lá em Ibiá a usávamos com frequência, quando o aperto era dos grandes. Dessa vez, a greta foi tão estreita, que nem minha avó eu estava conseguindo ver direito.
Há uma ironia peculiar em conhecer os meandros da medicina. Carregamos um atlas de doenças em nossas mentes, catalogamos sintomas como quem coleciona selos, e ainda assim, quando o diagnóstico ameaça pousar sobre nossos ombros, ou melhor, nos olhos de quem amamos, todo o conhecimento parece evaporar, como uma gota d`água em chapa quente.
Foi numaterça-feira comum que notei. Minha filha, com seus olhos de universo, apresentava uma assimetria sutil. Para o leigo, imperceptível. Para o pai, preocupante. Para o médico em mim, aterrorizante. A órbita esquerda, milimetricamente mais proeminente. Um detalhe que só os olhos treinados captariam – e como desejei, naquele instante, jamaisteraprendido a ver.
O paradoxo do médico-pai é cruel. Conhecemos demais para ignorar e pouco demais paratercerteza. Vivemos na corda bamba entre o diagnóstico diferencial e a esperança desesperada. Enquanto acariciava seus cabelos antes de dormir, minha mente percorria as possibilidades – inflamação, infecção, malformação e... tumor. A palavra que nenhum pai quer pronunciar, nem mesmo em pensamento.
Nas semanas que se seguiram, tornei-me dois homens habitando o mesmo corpo. O médico metódico, que consultava artigos com a falsa serenidade profissional. Do outro lado, o pai, devastado, que chorava escondido no banheiro às três da manhã, negociando com deuses, para os quais somente apelava nas decolagens e turbulências em aviões.
Os exames foram marcados com a urgência que só os médicos conseguem para seus familiares – outro privilégio que, naquele momento, parecia uma maldição disfarçada. Quanto mais rápido soubéssemos, mais cedo o mundo poderia desabar.
Na sala de espera da tomografia, a face de outros pais carregava o mesmo peso que a minha, mas havia uma diferença fundamental: eles não sabiam o que eu sabia. Não conheciam as estatísticas, os protocolos, os prognósticos. A ignorância, às vezes, é um cobertor macio sob o qual se pode, ao menos, tentar dormir.
Lembro-me de, certa vez, quando segurei sua mãozinha enquanto ela era anestesiada para uma cirurgia no ouvido aos 5 anos. Meu colega, Marcio Fortini, quase teve que me segurar para que eu não desabasse. "Papai, vai doer?", perguntou com a voz pequena. "Não, meu amor. É só um soninho breve." Mentiras piedosas que contamos para proteger. Dessa vez, enquanto os raios penetravam seu corpo já adolescente, eu elucubrava todos os tratamentos possíveis, todas as chances de cura, todos os especialistas que conhecia.
A espera pelos resultados parou o tempo. A noite não trazia descanso – apenas pesadelos nos quais eu a via desaparecer em corredores hospitalares intermináveis. Durante o dia, atendia meus pacientes com um sorriso automático, enquanto dentro de mim crescia um tumor de angústia que nenhum medicamento poderia curar.
É curioso como a medicina nos ensina a manter distância emocional. "Não se envolva demais", dizem os professores. Mas quando é sua filha no centro da tempestade diagnóstica, percebe-se a falácia desse conselho. A objetividade é uma ilha que afunda quando o oceano é feito do sangue que corre em suas veias.
Os artigos científicos tentavam me confortar com estatísticas favoráveis. "A maioria desses casos é benigna", relatavam. Mas eu conhecia a matemática cruel da medicina: para alguém ser parte da estatística desfavorável, basta ser um em 100, um em mil. E quando esse “um” tem seu DNA, números perdem completamente o significado.
Em minhas crônicas nesse jornal, sempre busquei humanizar a medicina. Contar histórias de pacientes que enfrentavam diagnósticos difíceis com coragem admirável. Agora, eu era o personagem da minha própria narrativa trágica, incapaz de encontrar as palavras para descrever o abismo que se abria sob meus pés.
Na véspera do resultado definitivo, cheguei tarde em casa e ela já estava dormindo. Sentei-me ao lado de sua cama. Observei o movimento suave de seu peito, o tremeluzir de seus olhos sob as pálpebras enquanto sonhava com um futuro lindo. Em mim a incerteza corroía. Que imagens povoavam aquela mente festiva? Certamente não as mesmas que assombravam a minha.
Na manhã seguinte, quando finalmente o telefone tocou e a voz da Christiane, radiologista – colega atenciosa de longa data – pronunciou as palavras "exame normal”, senti meus joelhos cederem. Normal?! A vida devolvida em um adjetivo.
Chorei como nunca. Sozinho, deixei que o alívio me quebrasse em mil pedaços, para depois me reconstruir como um pai que recebeu umasegundachance.
Há uma vulnerabilidade única em ser médico e pai simultaneamente. Conhecemos demais os monstros que espreitam nas sombras da saúde humana. Sabemos que o corpo é uma máquina imperfeita, sujeita a falhas que nenhuma engenharia pode prever completamente.
Hoje, observo minha filha dançando e nos fazendo rir de suas palhaçadas. Seus olhos perfeitamente simétricos novamente, refletindo a luz do sol como pequenos oceanos. Penso em todos os pais e mães que não tiveram a mesma sorte, que receberam o diagnóstico que temiam, que tiveram que ser fortes quando tudo o que queriam era desmoronar.
A medicina me ensinou a ver o mundo através das lentes da ciência. Minhas filhas me ensinaram a vê-lo através dos olhos do amor. E nessa intersecção, encontro diariamente o significado mais profundo da minha vocação – não apenas tratar corpos, mas honrar a fragilidade preciosa da vida que pulsa em cada um deles.
Sophia agora está namorando. Minha avó voltou para a greta... pai nunca tem sossego.
*Minha homenagem ao mestre Luis Fernando Verissimo, que nos deixou na última semana.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.
